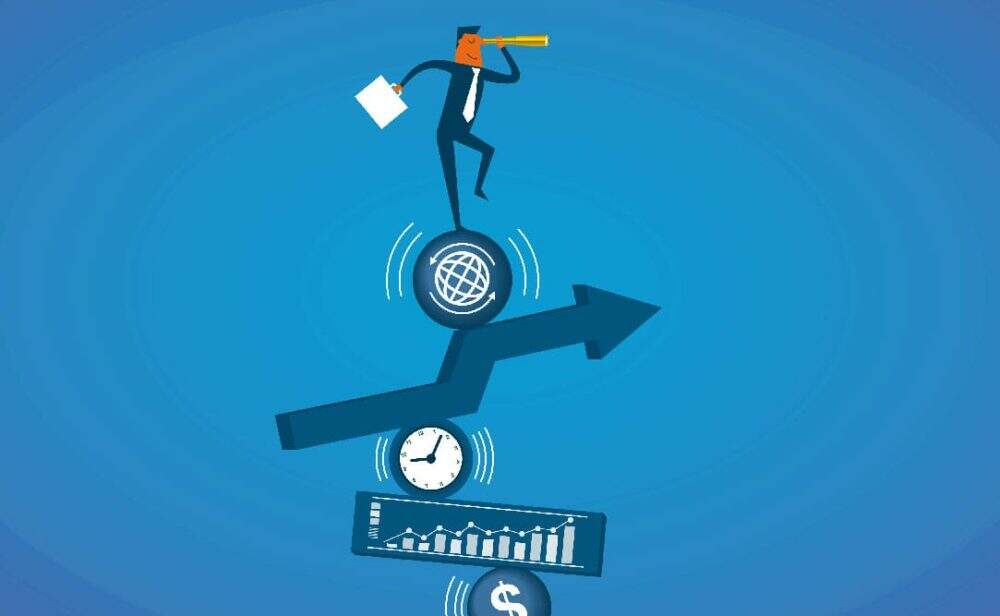O Brasil volta a debater os riscos decorrentes do nosso desarranjo fiscal, que não são de agora, mas que vêm se insinuando gradativamente como a maior ameaça à estabilidade econômica do País. Embora tenhamos, na superfície, alguns indicadores positivos, a exemplo do baixo nível de desemprego, inflação ainda sob controle e um PIB anual acima de 3%, uma perigosa placa tectônica fiscal ameaça piorar muito a situação, caso não sejam feitas as reformas necessárias. As medidas anunciadas pelo Governo na semana passada, longe de acalmar o mercado, injetaram ainda mais desconfiança nos agentes, fazendo o dólar ultrapassar a marca histórica de R$ 6,00. A mão invisível do mercado demonstrou mais uma vez que possui uma lógica que ignora excessos de voluntarismo por parte das autoridades. Muito mais do que brigar com a racionalidade dos mercados, é preciso compreender o que precisa ser feito e de que modo é possível fazê-lo.
Nessa perspectiva, é necessário frisar que há muito a fazer e que o problema não está apenas na variação do dólar, importante termômetro da economia, mas nos riscos inflacionários e nos juros restritivos decorrentes dos problemas fiscais que enfrentamos. O setor produtivo brasileiro, não bastasse estar acometido por gigantescos desafios competitivos e de um ambiente hostil em termos de infraestrutura logística e legal, depara-se agora com juros básicos do Bacen que prejudicam projetos de expansão e colocam em risco a saúde financeira das companhias nos próximos anos. Fica clara, portanto, a necessidade de combinar equilibradamente o corte de despesas e o aumento das receitas. Contudo, se há clareza e quase consenso de que cortes de gastos devem ser feitos, o mesmo não ocorre na ponta das receitas. A discussão sobre sonegação e renúncias fiscais permanecem quase que invisibilizadas. Não é de hoje, contudo, essa dificuldade em tornar mais justa a política fiscal brasileira. Uma das causas dessa fragilidade foi apontada em 1958, quando Raymundo Faoro denunciava como os “donos do poder” amarravam o Brasil ao atraso, impedindo que reformas estruturantes fossem feitas já naquela época.
Faoro escrevia que, “na peculiaridade brasileira, a camada dirigente atua em nome próprio, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento estatal. A comunidade política comanda e supervisiona todos os negócios relevantes, concentrando no corpo estatal os mecanismos de intermediação, com suas manipulações financeiras, monopolistas, de concessão pública de atividade, de controle de crédito, de consumo, de produção privilegiada, numa gama que vai da gestão direta à regulamentação material da economia. É esse capitalismo patrimonialista, uma antítese da República, que ainda perdura sob o atual modelo de capitalismo clientelista ou de compadrio, que impede que as mudanças estruturais avancem.
Um dos exemplos mais evidentes dessa anomalia reside na verdadeira indústria que se transformou a renúncia fiscal no Brasil, somando, de acordo com o TCU, colossais R$ 646,6 bilhões, ao final de 2023, em subsídios financeiros, de crédito e tributários. Esse montante correspondeu a 34% sobre a receita primária líquida e a 5.90% do PIB. O volume sonegado em impostos é ainda maior, alçando a casa dos R$ trilhões. Mexer nesse quadro requer enfrentar as raízes do patrimonialismo e da apropriação privada do Estado. Isso implicaria distinguir os lados, colocando a autoridade governamental em condições de desmontar os feudos de poder econômicos incrustados na máquina estatal, a qual parasitam sem freios. Esse enfrentamento, é manifestamente complexo e muito difícil, dada a nossa formação histórica e o nosso modelo político disfuncional, mas converte-se numa inadiável necessidade diante dos desafios fiscais que o País enfrenta. Reformas inteligentes terão que ser capazes de combinar corte nas despesas, com sensibilidade social, e simultaneamente, demonstrar coragem para aprovar reformas junto ao andar de cima de nossa economia.
(edsonbundchen@hotmail.com)